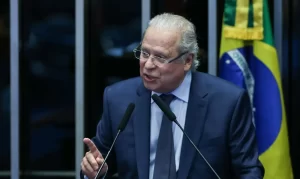Eleição de outubro vai definir futuro da democracia e das conquistas sociais, afirma cientista político

14 de abril de 2022 - 08h16
Democracia brasileira em transe
Por Marcello Simão Branco
Nos anos 1980, adolescente, despertei politicamente num momento especial de grandes mudanças que se avizinhavam para o país.
O medo, contudo, continuava. Apesar do processo de abertura em curso, militares continuavam a mandar, os aparatos de repressão não haviam sido desmobilizados, a lei de censura ainda vigorava, e os cidadãos não tinham direito de votar para presidente.
Se a campanha das Diretas Já entusiasmou o país, mesmo com sua derrota, não havia mais como a ditadura ganhar força novamente.
Os militares linha-dura estavam na defensiva e o momento era de negociação e certa reconciliação em nome da reconstrução política.
Processo chamado de transição pactuada, tal como formulado pelos cientistas políticos Guillermo O´Donnell e Philippe Schmitter, marcou a redemocratização brasileira e de outros países de momentos políticos semelhantes na América Latina e no Sul da Europa.
Do ponto de vista das articulações das elites políticas, econômicas e militares pode-se dizer que a pactuação foi bem-sucedida, naquilo que também foi chamado de institucionalismo estratégico. Ou seja, o campo moderado da situação e da oposição liderou e controlou a transição, isolando, por assim dizer, os radicais de direita e esquerda, se bem que estes, ao seu modo, desejavam o retorno da democracia, ainda que não a tivessem como último objetivo.
Desta forma, falando especificamente do Brasil, o processo de transição entre regimes nestes termos foi exitoso, com a promulgação da Constituição “cidadã” de 1988 e a eleição direta para presidente em 1989, quase três décadas depois da última.
Iniciava-se, assim, de forma plena, o novo regime democrático brasileiro. Mas será mesmo?
Em termos institucionais o regime mostrou-se robusto enfrentando, inclusive, a crise do impeachment de Collor em 1992, e também funcional, naquilo que o cientista político Sérgio Abranches, em tom crítico, nomeou de presidencialismo de coalizão, em razão da combinação de sistema de governo presidencial com multipartidarismo, levando o chefe do Executivo, sempre em minoria no Congresso, a formar uma aliança de apoio partidário para viabilizar seu governo.
Mas será que a nova experiência democrática brasileira estava consolidada?
Mais uma tese a favor disso veio com a eleição de Lula em 2002, o primeiro governante de partido de esquerda eleito diretamente a chegar ao poder e governar.
Contudo, este próprio governo viu-se limitado às contingências dos apoios políticos e das características institucionais.
Também montou uma ampla coalizão, mais heterogênea ideologicamente do que as anteriores, e pagou um custo por isso (Mensalão), mas, acertou o passo principalmente no segundo mandato, elegendo uma sucessora para o cargo, Dilma Rousseff.
Mas o fato é que em toda esta cronologia, bem conhecida de todos, o que sobressaiu foi a ênfase numa redemocratização político-institucional.
O país manteve sua tradição de eleições regulares chegando, finalmente, ao sufrágio universal com o voto dos analfabetos, além de inovar com as urnas eletrônicas; o sistema partidário se desenvolveu com relativa rapidez, mesmo com problemas de baixa identidade com o eleitor e uma cultura fisiologista; os poderes se relacionaram com certa funcionalidade e controles mútuos, apesar do protagonismo excessivo do Executivo, pelo menos, até o segundo governo Lula.
Pensou-se, e também no ambiente da Ciência Política, que o país vivia uma democracia viável, “aceita por todos os atores relevantes como o único jogo disponível”, para lembrar a expressão marcante do cientista político Adam Przeworski.
E a própria agenda de pesquisas da área constituiu um conjunto importante de estudos institucionais, relegando a um plano secundário, e até de pouco prestígio, temas como participação política, qualidade da democracia, cultura política e redução da desigualdade social.
A comunidade acadêmica não tem de fazer propriamente um mea culpa, mas repensar seus conceitos e agendas de pesquisa, inclusive, para contribuir com o fortalecimento de uma democracia que vá além de eleições, partidos e instituições.
De certa forma, de 1995 a 2014, praticamente duas décadas, este modelo tradicional vigorou bem, dentro dos seus parâmetros, com governos comprometidos com a democracia (FHC, Lula e Dilma, opositores da ditadura), políticas públicas universais e contínuas, e mesmo marcas próprias de realizações, que os simbolizam (o Real com o PSDB e o Bolsa Família com o PT).
E esta estabilidade iludiu parte da sociedade e dos analistas, pois a partir de 2013 o país passou a vivenciar uma escalada de situações cada vez mais graves para a segurança e manutenção do regime democrático no país, chegando ao cúmulo de eleger para presidente uma figura nefasta como Jair Bolsonaro. O primeiro governante assumidamente autoritário no Palácio do Planalto desde a redemocratização.
Pois o fato é que esta configuração política-institucional foi complementada com políticas econômicas com diferentes graus de neoliberalismo, o que aumentou a miséria e a desigualdade social no país. Pois isso, em parte, explica porque, finalmente, o PT chegou ao poder no início do século 21.
Desigualdade social com resquícios autoritários relevaram-se como problemas graves quando o regime enveredou por políticas econômicas mais substantivas, em especial no governo Dilma Rousseff.
Isso porque, para além do arcabouço institucional limitado e políticas econômicas neoliberais em boa parte do tempo, outro fator a pesar foram as estruturas do Estado, que não acompanharam a democratização do regime.
Como parte dos pactos da transição, reconstruiu-se a democracia com militares e agentes impunes às suas graves violações dos direitos humanos cometidos durante a ditadura, as policias militares não foram remodeladas ou extintas, extensões sombrias que foram do período autoritário, normalizou-se a convivência com níveis altos de criminalidade nas periferias das grandes cidades e no campo.
Mas não quando chegava à classe média branca. Isso sem falar no modelo de mídia extremamente concentrado do país, nas mãos de empresários e políticos conservadores, especialmente no Nordeste.
De certa forma, portanto, a democracia brasileira se viabilizou na superfície, na superestrutura, para aludirmos a Marx, mas esqueceu do recheio. Do aspecto substantivo, de maior participação política dos movimentos sociais e redução significativa da desigualdade social.
Pois quando se procurou, minimamente, enfrentar esta contradição, o acordo em torno da preferência das elites políticas pela democracia fraquejou.
Como alguns observadores já identificaram, entramos em crise por causa, sobretudo, de um conflito distributivo.
A política econômica do PT de fortalecimento do mercado interno, crédito consignado, ampliação da presença de minorias nas universidades públicas, que também se expandiram, complementados por um eficiente e enorme programa de transferência de renda, provocou o choque entre aqueles do ‘andar de cima’, como costuma dizer o jornalista Elio Gaspari, com os do ‘andar de baixo’.
Ou seja, a melhora, ainda que limitada a um modelo econômico capitalista periférico, da condição de vida de dezenas de milhões de brasileiros incomodou aqueles que sempre estiveram à frente do país, tanto política, como economicamente.
Não é fortuito que negros frequentem universidades e restaurantes, porteiros e empregadas domésticas, aviões, entre outros exemplos corriqueiros de integração socioeconômica. Isso acirrou preconceitos e reações de setores que, historicamente, se julgam acima dos demais.
Na verdade, isso não é inédito na história do Brasil, e recordo aqui apenas do governo João Goulart nos anos 1960. Quando tentou implementar políticas sociais e econômicas inclusivas, para democratizar a prática do capitalismo, foi derrubado, sob a acusação de ser comunista.
Justificativa que voltou à boca de uma direita reativada, de 2018 para cá, mesmo num mundo totalmente diferente. Que deseja um país branco, cristão, homofóbico, racista, ultraliberal e vassalo dos interesses norte-americanos. Ora, nem na época da ditadura militar seguiu-se um receituário tão tosco e radical.
Pois a este conflito distributivo, que teria disparado o gatilho da crise, subjaz o problema, talvez ainda mais profundo, da mentalidade das elites neste país. De forma geral, políticos, empresários, juízes e militares sempre se consideraram especiais com relação à aplicação do Estado de Direito.
Mais bem posicionados na sociedade em todos os sentidos práticos, se veem com legitimidade para estabelecer uma certa ordem ideológica que, historicamente, os beneficiaram. Pois quando, nos anos 1960 e mais recentemente, intentou-se a aproximação de setores populares a seus postos de poder e ganhos materiais, eles estrilaram.
Ao não reconhecer a vitória de Dilma em 2014, criando a Operação Lava Jato, com o impeachment golpista contra a presidenta, com a prisão ilegal do ex-presidente Lula, e, ao acirrar a polarização que se seguiu, viu-se chegar ao poder presidencial o maior inimigo da democracia no país!
O grande problema brasileiro, desde sempre, é a desigualdade social, complementado pela estrutura racista. É ela que gerou esta elite reacionária, que edificou uma sociedade em boa parte clientelista e corrupta, que, assim, condiciona o apoio à democracia a seus valores e interesses.
Francisco Weffort, sempre arguto, dizia que ela é ´instrumental´ no país, e o cientista político Leonardo Avritzer, talvez sob esta inspiração, desenvolveu o conceito de democracia pendular para explicá-la. Isto é, com momentos de mais adesão ou rejeição ao regime, a depender, principalmente, do apoio dos setores política e economicamente conservadores da sociedade.
O desafio é duplo, portanto, ambos de caráter substantivo. Melhorar as condições sociais da maior parte dos brasileiros e estabelecer uma estrutura de direitos internalizada e aceita como igual para todos.
Certamente não é neste momento crítico que tais desafios deverão ser enfrentados. Pois neste 2022 o que está em jogo com a eleição de outubro é a sobrevivência da própria democracia, mesmo esta construída com as limitações apontadas.
Contudo, não se avançará no sentido de realmente consolidar o regime democrático no país sem que este duplo desafio seja enfrentado e vencido. Resta saber quando.
Marcello Simão Branco, mestre e doutor em Ciência Política pela USP (Universidade de São Paulo), professor da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e autor de, entre outros livros, Democracia na América Latina: Os Desafios da Construção (1983-2002) pela Editora Humanitas/Fapesp.