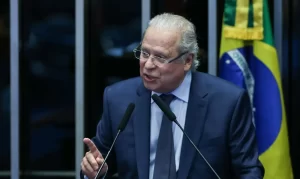Signo da morte marca bolsonarismo; execuções de Dom e Bruno são consequência dessa política macabra

24 de junho de 2022 - 12h08
Sob o signo da morte
Por Maria Caramez Carlotto
Dilma Ferreira Silva, liderança do movimento Mulheres Atingidas por Barragens, assassinada dentro de casa no assentamento Salvador Allende, no Maranhão, em março de 2019.
Maxciel Pereira dos Santos, colaborador da Funai, assassinado em Tabatinga, Amazonas, na frente da mulher e do enteado, em setembro de 2019.
Paulo Paulino Guajajara, líder indígena, assassinado a tiros na terra indígena de Arariboia, Maranhão, em novembro de 2019.
Celino Fernandes e seu filho, Wanderson Fernandes, assassinados em casa no município de Arari, Maranhão, em janeiro de 2020.
Raimundo Paulino Ferreira, assassinado com um tiro na cabeça em Ourilândia, Pará, em fevereiro de 2020.
Fernando Ferreira da Rocha, advogado de camponeses, assassinado dentro da casa em Boca do Acre, Amazonas, em fevereiro de 2020.
Daniquel de Oliveira dos Santos, liderança do MTST na ocupação Fidel Castro localizada em Uberlândia, Minas Gerais, assassinado a tiros na madrugada de 5 de março de 2020.
Anísio Souza, líder comunitário e ativista ambiental, assassinado a tiros, no Rio de Janeiro, em março de 2020.
Zezico Rodrigues, líder da Terra Indígena de Arariboia, Maranhão, morto com um tiro de espingarda em abril de 2020.
Ari Uru-Eu-Wau-Wau, professor e ativista ambiental assassinado em Jaru, Rondônia, em abril de 2020.
Adão do Prado e Airton Luís Rodrigues, militantes do MST, assassinados no assentamento do movimento localizado em Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul, em maio de 2020.
Antônio Correia dos Santos, liderança da comunidade quilombola do Barroso, Bahia, assassinado em casa com três tiros em maio de 2020.
Original Yanomami e Marcos Aronka, jovens lideranças dos Yanomamis assassinados por garimpeiros na região do Rio Parima, em Alto Alegre, Roraima, em junho de 2020
Kwaxipuhu Ka’apor, liderança da comunidade Associação Ta Hury do Rio Gurupi, Maranhão, assassinado a pauladas numa emboscada em agosto de 2020.
Ênio Pasqualin, líder do MST no Paraná, assassinado em outubro de 2020.
Jane Beatriz Machado da Silva, Promotora Legal Popular na região de Cruzeiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, morta durante uma abordagem policial em dezembro de 2020.
Dom Philips, jornalista e Bruno Araújo Pereira, indigenista e servidor de carreira da Funai. assassinados a tiros nas imediações da terra indígena do Vale do Javari, Amazonas, em junho de 2022.
Quando ainda era um político desconhecido, Bolsonaro ganhava destaque esporádico por frases polêmicas. Muitas delas, relacionadas ao tema da morte política.
Em 1998, em entrevista à revista Veja, afirmou que “Pinochet devia ter matado mais gente”. Em 1999, em um programa de TV, seguiu a mesma linha ao dizer que “no período da ditadura, deviam ter fuzilado uns 30 mil, a começar pelo presidente Fernando Henrique”. No mesmo ano, disse que no Carnaval passado, tinha morrido mais gente que durante os 21 anos de ditadura militar brasileira.
Era uma obsessão e seguiu.
Em 2009, sob pressão de grupos de familiares de vítimas da ditadura, debochou em plena Câmara dos Deputados: “Desaparecidos do Araguaia? Quem procura osso é cachorro”. Em julho de 2016, quando já dispunha de mais notoriedade, Bolsonaro foi além e afirmou numa rádio que o grande erro da ditatura tinha sido “torturar e não matar”, o que não o impediu de, na votação do impeachment de Dilma Rousseff, homenagear um dos mais, se não o mais, brutal torturador do período, o coronel Carlos Brilhante Ustra.
Durante a campanha presidencial de 2018, ameaçou ativistas, falou em mandar a esquerda “para a ponta da praia”, simulou metralhar desafetos, dentre outras referências a assassinatos políticos. A facada em Juiz de Fora fortaleceu ainda mais a presença do tema na sua campanha, como se o fato de ter sido vítima de violência legitimasse a radicalização de suas ameaças.
Já presidente, seguiu fascinado pela questão, chegando a dizer, mais de uma vez, que só sai da Presidência morto.
Sejamos francos: Bolsonaro nunca escondeu quem era. Em 2017, num evento em Porto Alegre, sentenciou: “Sou capitão do Exército, minha função é matar”.
Sem dúvida, no seu governo, estamos sob o signo da morte.
E não só porque registramos o absurdo de mais de 670 mil mortes, muitas delas evitáveis, na pandemia de Covid-19 – uma das mais altas taxas de mortalidade do mundo. Mas porque durante seu governo, aumentou a posse de armas e munições; cresceu a letalidade policial; e disparou, ainda, o assassinato de crianças, tanto em geral quanto em decorrência de ações policiais.
O Brasil se destaca hoje, mais do que nunca, pelo assassinato de ativistas, pelo assassinato de lideranças indígenas, pelo assassinato da população LGBTQIA+, pelos feminicídios e pelo genocídio da juventude negra.
Na verdade, não surpreende que com seu passado escravocrata e patriarcal e com a sua estrutura socioeconômica profundamente desigual, o Brasil seja um país marcadamente violento. Até um pensador conservador como Gilberto Freyre sabia que a cultura brasileira se caracterizava pela violência que, desde a infância, marcava a educação das classes dominantes, manifestando-se mais tarde: “no gosto de mando violento ou perverso que explodia nele [senhor de engenho] ou no filho bacharel quando no exercício de posição elevada, política ou de administração pública; ou no simples e puro gosto de mando, característico de todo brasileiro nascido ou criado em casa-grande de engenho”.
O vermelho sangue está no nosso nome e marca nossa história. Não foi invenção pura e simples de Bolsonaro nem das elites e da extrema-direita que ele representa. Ainda assim, é fundamental reconhecer que seu governo representa uma mórbida novidade histórica: se todos os anteriores foram mais ou menos tolerantes com a cultura da violência, especialmente da violência política, este é o primeiro que a promove deliberadamente, como política de Estado e como ideologia.
Não é só sobre fazer arminha com a mão e homenagear torturador. É sobre cultuar a morte, naturalizar o medo e renovar nossa cultura da violência cotidianamente. É carestia. É miséria. É fome. É destruição ambiental. É perseguição à educação e à cultura. É desumanização constante.
O significado histórico disso não é só trágico, como ainda precisará ser devidamente avaliado. O certo é que vai demandar de todos nós, brasileiros e brasileiras movidos pelo senso de ruptura com o passado e conectados à urgência de um outro futuro, resiliência e coragem para transformar o Brasil em um país marcado pelo signo da vida. Já é tempo de deixar para trás os coveiros de ontem e de hoje, e abrir caminho para as parteiras do amanhã.
Maria Caramez Carlotto é cientista social formada pela USP (Universidade de São Paulo), possui mestrado e doutorado em Sociologia pela mesma instituição. É professora da UFABC (Universidade Federal do ABC) na área de Relações Internacionais, com foco em Economia Política Mundial, onde coordena o Grupo de Pesquisa Neoliberalismo, Democracia e Mudança Estrutural do Espaço Intelectual Brasileiro e é articulista do Manifesto Petista.